
O Mocotó pede paz
Iniciada pela PM em 2018, Operação Mãos Dadas é alvo de denúncias de violência policial no Morro do Mocotó, comunidade na região central de Florianópolis
Reportagem e fotos de Rodrigo Barbosa
Morro do Mocotó, 24 de setembro de 2019.
Cerca de vinte policiais militares se alinham lado a lado aos pés da igreja evangélica na Servidão Dois, local que marca o ponto mais alto da comunidade localizada no Centro de Florianópolis. Munidos de cacetetes, revólveres e fuzis, formam um paredão humano ao lado de uma base policial instalada permanentemente no morro desde o ano de 2018. A identificação no fardamento, obrigatória por lei, está em apenas quatro ou cinco dos militares que ali estão. Parte deles usa balaclavas, máscaras de origem russa que cobrem todo o rosto. Aparatos e postura de um batalhão preparado para o combate, naquilo que parece uma verdadeira cena de guerra. Uma amostra da recorrente truculência da Polícia Militar na comunidade do Mocotó.
De frente para o paredão, dezenas de moradores do Mocotó se mantêm igualmente firmes, encarando, de cara limpa, fuzis e balaclavas. Apesar da constante presença policial naquele ponto, foram surpreendidos pela quantidade de militares e pela força do armamento que carregavam naquele começo de tarde ensolarado. No grupo de moradores há homens, mulheres, crianças e idosos. Famílias inteiras que carregam faixas, panelas e suas próprias vozes como munição. Se o outro lado apertasse o gatilho, pouco poderiam fazer.
Ainda no grupo, algumas dezenas de estudantes universitários. Muitos dos quais vindo de realidades completamente distintas àquela que vivenciavam naquele momento. Alguns viam, pela primeira vez, um fuzil a poucos metros de distância. Era o meu caso.
O encontro – à primeira vista inusitado – entre estudantes e moradores de uma comunidade localizada a pelo menos dez quilômetros de distância da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) tinha um motivo: o grupo atendia, naquela tarde, a um convite feito por lideranças comunitárias, unindo forças para realizar um protesto contra a violência policial.
O protesto, planejado uma semana antes, foi uma resposta a uma ação da Polícia Militar (PM) que terminou com, ao menos, cinco moradores do Mocotó baleados no dia 12 de setembro.
Duas semanas depois, aquele grupo que se colocava à frente do paredão temia ouvir, uma vez mais, o disparar de uma arma de fogo.

O clima tenso perdura por pelo menos três horas. De um lado, policiais dizem esperar a dispersão do ato para se retirar. Não parecem muito receptivos às críticas que lhes são proferidas de maneira pacífica. Do outro, moradores e estudantes exigem a garantia de que não haveria represália aos manifestantes. A dispersão só ocorreria caso não houvesse um novo derramamento de sangue, como o do dia 12.
No fim da tarde, um grupo de crianças da comunidade chega da escola. Atraídas pelo ritmo dos tambores da manifestação, se aglomeram em volta de um músico e começam, em coro, a cantar rimas de funk. Se tornam, assim, o centro das atenções. Era o primeiro respiro frente ao clima pesado que tomava conta do local há horas. Nem assim o paredão humano se move. Intactos, policiais conversam entre si e observam a cena, entre feições intimidadoras e sorrisos de deboche frente à situação.
A solução para o impasse chega de terno e gravata, num já chuvoso começo de noite no Mocotó. O vereador Lino Peres, acompanhado de um grupo de advogados comunitários, dialoga com o Tenente Arantes – responsável pelo grupo de policiais e que, até aquele momento, se recusara a dialogar com as lideranças locais. Poucos minutos de conversa e quase nenhuma resposta aos questionamentos feitos ao comandante. Foi dada, porém, a garantia de que, após o ato, não haveria qualquer tipo de represália. Com a palavra do tenente, uma última reunião entre os manifestantes sela o fim do protesto. Aos menos pelos próximos dias, haveria paz.
A tensa relação entre Polícia e comunidade, porém, tende a continuar: desde agosto de 2018, os moradores convivem com uma base da PM instalada justamente ao lado de onde se erguia o paredão durante o protesto. A ocupação da Polícia Militar ao Morro do Mocotó desde aquele momento, nomeada de Operação Mãos Dadas, foi estabelecida com a justificativa de combater o tráfico de drogas na região. Os relatos da comunidade, no entanto, apontam que o tiroteio do dia 12 de setembro foi apenas mais um episódio de uma série de abusos por parte dos militares.

O medo faz parte da rotina de Thaise Tamires Lopes Santos. Aos 32 anos, estuda, trabalha como segurança particular e sempre viveu no Mocotó. A conciliação entre o trabalho e os estudos, ela conta, a faz chegar em casa de madrugada com certa frequência. “À noite tu chega e escuta tiro e já sabe que é a polícia entrando. E se pega uma criança, um pai de família subindo do serviço?”, questiona a moradora. As ruas naturalmente mais vazias e escuras são um fator a mais de preocupação para ela, que afirma já ter se deparado com policiais em frente ao portão de casa em mais de uma ocasião durante a madrugada.
De acordo com ela, a rotina da comunidade – uma das mais tradicionais da cidade, com quase 150 anos de história – já foi pacata. Mas tem se tornado mais violenta, muito por conta da ação da PM. “Eles acham que todo mundo que mora na comunidade é vagabundo. Por ser negro, por morar aqui. Mas aqui tem tanto pessoas boas, quanto pessoas ruins, e acaba todo mundo sofrendo”, relata Thaise.
O preconceito, aliás, é um fator apontado por vários dos moradores que já sofreram com a violência da polícia na comunidade, majoritariamente negra. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 mostram que, embora sejam pouco mais de metade da população brasileira, pretos e pardos representam 75% das vítimas de violência policial no Brasil.
Thaise ainda reclama do tratamento dado às mulheres, especialmente após o início da ocupação policial. “Vagabunda” e “mulher de traficante” são alguns dos termos que, segundo ela, são utilizados indiscriminadamente por parte dos policiais em abordagens a moradoras do Mocotó.
Revistas feitas por policiais homens a mulheres também são recorrentes. De acordo com o Código de Processo Penal (documento que regula este tipo de abordagem), embora não sejam proibidas, estas revistas só podem ser realizadas “se não importar o retardamento ou prejuízo da diligência”. Em outras palavras, pessoas do sexo feminino só poderiam ser revistadas por policiais do sexo masculino em caso de absoluta emergência e na falta de oficiais mulheres. Caso contrário, o ato pode configurar abuso de autoridade.
Diversos outros atos de violência policial ocorridos após a instalação da base no Mocotó ainda estão na memória de Thaise: o vizinho adolescente baleado e morto pela PM a caminho da casa do pai; um parente que, dentro de casa, ficou sob a mira da arma de um policial até que sua mãe fosse interceder; várias agressões físicas (a maiores e menores de idade) e outros tantos casos de invasões domiciliares arbitrárias, sem mandados que autorizassem os policiais a entrarem nas casas. Mas nenhum dos recentes casos de violência marcou mais Thaise que o tiroteio de 12 de setembro de 2019:
“Depois de tudo o que aconteceu com a minha família, eu tenho medo. Para eles não importa se eu sou uma pessoa do bem ou não”. Duas das pessoas baleadas no episódio, que motivou o protesto de duas semanas depois, eram seus primos.
O tiroteio ocorreu numa quinta-feira quando, em plena luz do dia, iniciou-se uma batida policial no Mocotó. As ruas, movimentadas pelo intenso fluxo do meio da tarde, logo se tornaram o caos. Thaise lembra que estava voltando de uma visita ao vizinho quando ouviu os tiros. Não demoraria muito até receber a notícia de que Shilaver, seu primo, havia sido baleado. De acordo com testemunhas, dois jovens correram ao avistar uma equipe da PM, quando um dos policiais teria disparado contra eles. O primeiro tiro atingiu a perna de Shilaver, que foi ao chão.

“Com o meu primo já rendido no chão, eles [policiais] deram mais outros tiros. Foram cinco tiros que eles deram, tudo por trás”, lembra Thaise, que foi correndo ao local assim que recebeu a notícia. Quando chegou, encontrou o local cercado. Nem mesmo os pais dos dois jovens foram autorizados a se aproximar de onde se encontravam seus filhos. O fato fez a tensão no local se elevar, e a revolta aumentou ainda mais quando os moradores perceberam que as câmeras corporais presentes nos fardamentos dos militares foram ligadas apenas após os dois jovens serem baleados.
As câmeras corporais foram introduzidas ao uniforme da Polícia Militar de Santa Catarina em julho de 2019, com o objetivo de conferir mais lisura às abordagens. Elas são ligadas automaticamente assim que uma viatura recebe uma ocorrência, através de um tablet. Mas, de acordo com a Polícia Militar, a operação do dia 12 de setembro era uma “simples patrulha”, portanto as câmeras não teriam respondido a nenhum chamado do sistema. Consequentemente, não foram ligadas de maneira automática. Elas, entretanto, podem ser manualmente ligadas ou desligadas pelos policiais que as portam a qualquer momento.
Muitos moradores afirmam, até hoje, que as câmeras desligadas poderiam indicar o intuito de esconder possíveis abusos na incursão da equipe da PM no Mocotó. A situação foi o estopim para uma comunidade já saturada com tantos episódios de violência por parte da Polícia Militar. Uma multidão exigindo satisfações cercou os policiais, que chamaram reforços. Pouco depois, tropas do BOPE e do Choque chegariam ao Mocotó. As cenas que viriam a seguir seriam de completo terror.
Para apartar os moradores, bombas de efeito moral foram arremessadas. A dispersão se deu com muita correria pelas estreitas vias da comunidade (a grande maioria das ruas do Mocotó permite apenas a circulação de pedestres). Balas de borracha também foram atiradas contra a população. Os tiros de borracha e bombas foram uma ação do Batalhão de Choque, que teria instaurado um processo interno de apuração sobre possíveis abusos após o ocorrido. O Choque, porém, não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre o ocorrido no dia 12 de setembro ou eventuais resultados de uma apuração interna.
Franciele, irmã de Shilaver, foi uma das atingidas pelos disparos do Choque. Ela, que vive ao lado de onde o irmão foi baleado, conta que estava junto da prima, Thaise, quando teria sido agredida por um policial. Um segundo, que vinha atrás, atirou em seu joelho. O SAMU só viria resgatar o irmão após ela também ser ferida. Mais de uma hora se passou entre os primeiros tiros e a chegada da equipe de saúde. A demora no atendimento, de acordo com a família, pode ter culminado em uma notícia que chegaria meses mais tarde.
Shila, como era conhecido por família e amigos, convivia com problemas renais e era paciente de hemodiálise. Naquela tarde de quinta, um dos cinco tiros que o atingiu perfurou um de seus rins. Durante o tempo em que aguardou pelo resgate, agonizou no chão e perdeu muito sangue. Foi internado e, após quase três meses entre a vida e a morte, não resistiu à sexta cirurgia de risco pela qual foi submetido. Shila faleceu sob custódia do Estado em 30 de novembro de 2019, aos 22 anos. O amigo baleado ao seu lado sobreviveu.
A PM afirma que o tiroteio se iniciou pois um dos jovens estaria armado durante a operação. Os tiros disparados contra eles teriam sido em legítima defesa. Fontes ouvidas pela reportagem no Mocotó contestam a versão da polícia. Não foi realizado exame de balística no dia dos disparos.

Além de Franciele, pelo menos outras três pessoas foram atingidas por disparos de borracha na operação que culminou na morte de seu irmão. Dentre elas, estava uma grávida que tentava, em meio ao caos, resgatar a filha na ACAM (Associação de Amigos da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó), projeto social que atende cerca de 150 crianças da comunidade no contraturno escolar. Ao menos uma centena de crianças estavam na ACAM durante o tiroteio, que aconteceu a poucos metros da instituição. Testemunhas ouvidas pela reportagem relataram que, durante todo o tiroteio, as crianças teriam ficado no chão, aos gritos.
Mas o trauma do dia 12 de setembro não fica restrito apenas às crianças da ACAM. Um primo mais novo de Thaise e Shilaver, de apenas cinco anos, presenciou toda a confusão daquela tarde. Thaise conta que ele “gritou muito” com as bombas e tiros disparados durante incursão policial. Semanas mais tarde, dores na garganta o levaram ao hospital, onde foi diagnosticado com um tumor. Na opinião do médico que o atendeu, a anomalia foi possivelmente causada pelo episódio traumático vivido pela criança. Após a realização de exames, constatou-se que o tumor era benigno e a criança passa bem.
A preocupação da família, porém, segue alta. Durante minha entrevista com Thaise, fomos interrompidos pelo garoto. De camisa do Neymar e com um espetinho de carne nas mãos, ele me olha e sorri. A prima, ao ver o almoço sendo devorado rapidamente, logo adverte: “Cuidado, não come muito rápido”. Ele sorri mais uma vez e volta à sala de TV.
Haveria ainda uma segunda interrupção na entrevista com Thaise. O som alto de foguetes, amplificado pela geografia da região, a faz parar a fala por alguns segundos. “Tá vendo? É assim que acontece”. Os foguetes são usados pelo tráfico para avisar sobre a chegada da polícia no Mocotó, mas servem de alerta para toda uma comunidade que convive com o medo, como eu iria perceber minutos mais tarde.
Quando subi as ruas do Mocotó naquele ensolarado 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, a comunidade pulsava alegria. Crianças corriam de lado a lado e famílias se reuniam em churrascos e rodas de samba pelas ruas. Quando saí, vinte minutos após os fogos, me vi descendo sozinho pela antes lotada Rua Geral do Mocotó, a principal via do Morro. O medo da Polícia Militar havia transformado o Mocotó em uma comunidade fantasma.

Para um morador em particular, o som dos foguetes ecoando morro acima é especialmente traumático. É Marcos Filip da Costa, de 30 anos – ou Filip, como é mais conhecido na comunidade. Em março de 2018, os foguetes foram das últimas coisas que Filip ouviu antes do som do disparo de um fuzil. O episódio ocorreu cinco meses antes do início da Operação Mãos Dadas e deixa claro que, embora na percepção de muitos moradores a violência policial tenha se intensificado após a operação, ela não é exclusiva deste período.
Era noite e Filip tomava cerveja com a mãe, Morgana, quando saiu para comprar cigarros na venda do Seu Jorge, poucas vielas acima de sua casa. Ao sair, ouviu os foguetes. Em seguida, a correria. Filip seguiu seu caminho e, ao entrar em um beco, já bem próximo à venda, se deparou com uma equipe do BOPE. Segundo ele, obedeceu às ordens dos policiais e levantou as mãos de imediato. Mesmo assim, foi baleado no abdômen. Já no chão, questionou o motivo do tiro e tudo o que ouviu foi “Fica quieto!”. Outro policial teria mencionado um suposto segundo homem armado atrás dele. Mas, de acordo com testemunhas ouvidas pela reportagem, ele estava sozinho. Naquela altura, as câmeras corporais ainda não faziam parte do uniforme da polícia.
Filip, à época com 28 anos, conta que não tinha passagens pela polícia e trabalhava como revendedor de cosméticos desde que deixara seu antigo emprego. Ele havia passado três anos realizando serviços gerais no Hospital de Caridade, aos pés da comunidade aonde sempre viveu. Desde o episódio, os foguetes são um trauma para ele: “Se eu ouço foguete, não vou nem na venda mais. Eu fico com medo de ir ali e fazerem judiaria comigo”.
Naquela noite, assim como no tiroteio de setembro de 2019, a rua do incidente foi isolada pela polícia. De acordo com Morgana, um tio de Filip, que mora ao lado do local, tentava observar pela janela o que acontecia do lado de fora. Desistiu após a ameaça de levar um tiro na cara. Pouco depois, Filip foi avisado pelos policiais de que a equipe do SAMU não conseguiria acessar o local. Sem assistência, tentou, sem sucesso, se arrastar pelo chão até a rua principal do Mocotó.
Percebendo que o filho demorava muito para retornar para casa, Morgana sai em busca de notícias. No caminho, ouve de vizinhos que alguém fora baleado. Neste momento, liga os pontos. Era ele. Ao se aproximar da barreira policial que cercava o beco aonde acontecera o tiroteio, ouve a voz do filho chamando por ela. “Eu não vi mais ninguém. Não sei que cor eles [policiais] tinham, de que tamanho eles eram. Eu não lembro de nada. Só sei que empurrei todos eles. Empurrei, passei por eles e aí eles não tiveram como fazer nada, porque era o meu filho. Ele estava jogado no chão, desarmado, não tinha droga nem nada”, lembra Morgana.
Ao menos quarenta minutos se passaram até que o resgate, enfim, chegasse. A Polícia Militar não permitiu que nenhum familiar acompanhasse Filip dentro da ambulância até o Hospital Celso Ramos. Após entrar na viatura do SAMU, sua memória se apaga. Acordou três dias depois e dois caroços na lateral da cabeça chamaram sua atenção. Filip suspeita que tenha sido agredido ainda dentro da ambulância, pois diz não ter batido a cabeça após o tiro. Durante os três dias em que permaneceu em coma, foi submetido a duas cirurgias de alto risco.
Ficaria mais dois meses no Celso Ramos, algemado à cama e acompanhado por um agente prisional 24 horas por dia, conforme ele conta. Morgana lembra que as visitas só foram possíveis graças a uma enfermeira, que teria recebido seu endereço das mãos de Filip e ido até o Mocotó informá-la sobre o estado de saúde do filho depois de sair do coma. Até então, sequer sabia se o filho estava vivo.
As visitas seguiam as regras de uma visita ao presídio: um dia por semana, por duas horas, apenas a mãe era autorizada a vê-lo. Na maioria das vezes, um agente ficava ao lado de mãe e filho por todo o tempo. Nem mesmo a recomendação médica para que Filip evitasse esforços aliviava a conduta dos oficiais: “Se começar a falar baixinho perto dele, vou proibir tuas visitas”. Os relatos de Morgana são semelhantes aos da família de Shilaver, que também ficou internado sob custódia.
Filip deixou o hospital dois meses depois, em uma cadeira de rodas. O destino, porém, não foi sua casa, mas a prisão. Foi conduzido até a porta do hospital e, de lá, recebeu a ordem de ir caminhando até a viatura. Debilitado, quase caiu ao se levantar da cadeira, mas conseguiu cambalear até o carro. Neste momento, a irmã aparece correndo e lhe entrega um par de muletas, conseguidas pela família minutos antes. A informação de que o parente havia recebido alta só chegou porque eles mesmos ligaram para o hospital em busca de notícias.
Também veio da família a cadeira de rodas que auxiliaria a locomoção de Filip em suas primeiras semanas na Penitenciária da Agronômica. Ele define os dois meses ali passados como os piores de sua vida. A enfermaria era uma cela como outra qualquer e cabia aos detentos zelar pela limpeza do local. Também era função dos detentos trocar seus próprios curativos. Um médico visitava o presídio uma vez por semana, mas Filip lembra que, pelo mau tratamento recebido, o “dia da saúde” não era aguardado com muita expectativa.
O ferimento nas costas causado pela saída da bala ainda estava aberto. Nas condições em que viveu no presídio, sofreu uma inflamação e um cisto se formou. Até hoje, quase dois anos depois, ainda há um curativo no local do ferimento, que não se recuperou por completo. A cicatriz de cima a baixo na região do tórax e a bolsa de colostomia que o acompanham desde então também são prova do estrago causado pela bala de fuzil.
Embora não necessite do auxílio de muletas atualmente, Filip ainda tem dificuldades para caminhar e quase não sai de casa. O tiro que levou atingiu um nervo, o que prejudicou os músculos de sua perna esquerda. Caminhar até a parte alta do morro e visitar os amigos no Morro da Queimada se tornou uma missão dolorida.
A situação se tornou ainda mais delicada com a Operação Mãos Dadas, iniciada assim que ele deixou a prisão. Nas duas vezes em que tentou ir à parte mais alta da comunidade, Filip ficou retido na base da operação, que fica no local, por ao menos uma hora. Segundo ele, sofre com ameaças e deboches desde que foi baleado. “Ah, não morresse? Fica frio que daqui a pouco chega o teu”, ouviu, certa vez, de um policial.
Filip está há dois anos desempregado e entrou com o pedido no INSS para conseguir a aposentadoria por invalidez. Mas seu processo policial, ainda em aberto, o impede de consegui-la. Ele foi inicialmente indiciado por tentativa de homicídio, após um dos policiais envolvidos no caso afirmar que ele teria atirado contra o batalhão.
Concluídas as perícias, o juiz responsável pelo caso retirou a acusação de tentativa de homicídio, mas Filip segue respondendo por porte de arma de fogo – segundo ele, plantada pela polícia.

Recentemente, foi condenado a cumprir 625 horas de serviços comunitários, mas sua condição física dificulta que a pena seja cumprida. Durante os dois anos tentando provar a inocência de Filip, a família tem tido dificuldades para pagar o advogado. O caso chegou a ficar parado por vários meses por conta de uma dívida de R$ 1.000,00. Nos últimos meses, com o auxílio da namorada, voltou a pagar os honorários. Mas com pagamentos que variam de 50 a 100 reais por mês, o caso segue em ritmo lento.
A maior pena para Filip, porém, não tem ligação com a saúde ou o processo criminal. Quando foi baleado, ele era a única fonte de renda de sua casa, aonde vivia com a ex-mulher e um filho recém-nascido. Com todas as dificuldades de saúde apresentadas pelo então marido, ela terminou o relacionamento e retornou para a casa dos pais em Tubarão, no sul do estado. Hoje, ele vive sozinho nos fundos do terreno de sua mãe, conhecida em toda a comunidade pelas marmitas que prepara todos os dias. A família de Filip faz todo o possível para que ele veja o filho, hoje com dois anos, mas os encontros são raros. Segundo ele, a falta do garoto é a consequência mais dolorosa daquela ida à venda do Seu Jorge.
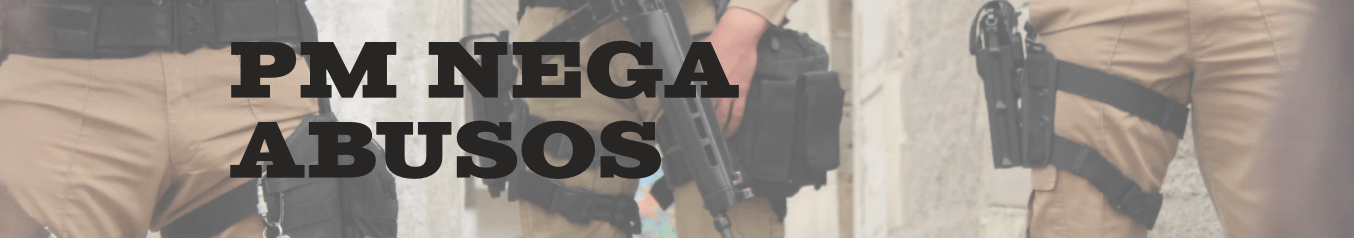
“Não temos aqui qualquer reclamação de abuso”, alegou Mário César Costa ao ser questionado sobre as queixas prestadas por moradores do Mocotó. Capitão César, como é conhecido, é o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Florianópolis (4BPM), responsável pelo patrulhamento de toda a região central da cidade. Consequentemente, coube a ele a chefia da Operação Mãos Dadas no Mocotó. Fui recebido pelo capitão para uma entrevista no quartel do 4BPM em 9 de dezembro de 2019. Além do comandante, também estavam na sala dois soldados que atuam na operação, de nomes Renato e Ubiratam.
O Capitão conta que a operação foi iniciativa do comando da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), na figura de seu Comandante Geral, Coronel Araújo Gomes. O objetivo seria diminuir índices de crimes violentos em bairros considerados críticos, e o Mocotó foi a primeira comunidade a ter uma base da operação instalada, em agosto de 2018. Ainda segundo o Capitão César, no Mocotó tais índices seriam altos pelo fato de o local ser “o berço do PGC” (referindo-se ao Primeiro Grupo Catarinense, principal facção criminosa de Santa Catarina e que exerce o controle do tráfico de drogas na região).
Dentre os crimes elencados por ele, estão o tráfico de drogas, porte ostensivo de armas de fogo pelas ruas, expulsão de moradores por discordâncias, e assassinatos. O comando da Polícia Militar também alega ter recebido um alerta de um confronto iminente entre a facção catarinense e o paulista PCC (Primeiro Comando da Capital), rivais históricos pelo comando do tráfico em Santa Catarina. O número de policiais utilizados diariamente na base varia de 30 a 40, mas em operações como a do dia 12 de setembro este número costuma ser maior.
Na versão dos oficiais, a instalação da base, em agosto de 2018, teria sido pacífica. Na comunidade, há controvérsias. Uma das moradoras mais conhecidas da comunidade lembra que, logo no primeiro dia de Mãos Dadas no Mocotó, perdeu o filho. “Ele tinha um mandado [de prisão]. Mas se tem um mandado, tu prende, tu não mata. Meu filho foi executado pela polícia”, lamenta a mãe. Segundo ela, o filho havia ido comemorar a gravidez da mulher e foi morto ao voltar à comunidade, sendo baleado duas vezes pelas costas.
Apesar de tratarem a extinção do tráfico de drogas na região como “utopia”, os três policiais ouvidos pela reportagem afirmam que veem a comunidade mais segura após a Operação. “No fundo, no fundo, a gente sabe que está ganhando”, me disse o soldado Renato. Eles também culpam os usuários de drogas por toda a violência gerada direta ou indiretamente pelo tráfico. Neste momento, me apresentavam um vídeo feito com uma lente de longo alcance e que mostrava assessores da Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) comprando e consumindo cocaína em um dos becos do Mocotó.
Eles ainda afirmam que, no geral, a recepção da população à presença da PM é boa, embora tímida. Quanto à parcela de moradores que se opõem à Operação, a alegação é de que “a grande maioria” teria envolvimento com o tráfico de drogas. Os protestos realizados também foram relativizados: para Renato, que estava presente na tensa manifestação do dia 24 de setembro, “a maioria das pessoas ali eram de outra instituição”, referindo-se aos estudantes da UFSC e membros de outros movimentos sociais que apoiaram o ato.
Para ele, não mais que 5 ou 10% dos manifestantes eram moradores do Morro. A porcentagem apresentada pelo soldado destoa da realidade observada pela reportagem, e o número de moradores presentes poderia ter sido ainda maior. Diversas fontes ouvidas pela reportagem afirmaram que não foram ao protesto por medo de mais uma resposta violenta por parte da Polícia Militar.

O Capitão César também se mostrou pouco receptivo a críticas da comunidade quanto ao tratamento recebido: “Tudo o que o policial faz é abuso de autoridade. Principalmente no Mocotó”. Ainda segundo ele, há um processo interno funcional para apurar quaisquer tipos de denúncia, através da Corregedoria da Polícia Militar. Entretanto, na data da entrevista (9 de dezembro de 2019), não haveria nenhuma denúncia.
Outro ponto levantado pelo comandante foi a diminuição no número de crimes violentos na cidade de Florianópolis (queda de 37%) e no Estado de Santa Catarina (queda de 10%) durante o ano de 2019. Para o capitão, a diminuição poderia ter relação com iniciativas como a Operação Mãos Dadas, que foi posteriormente replicada em outras comunidades da capital e em cidades como Joinville e Blumenau.
Ele destacou, em especial, uma operação que cumpriu 52 mandados de busca e apreensão em fevereiro. Mas nenhum dado que indicasse a diminuição nos índices de crimes violentos na região do Mocotó foi apresentado à reportagem.
Com relação às mortes causadas pela ação da polícia em Santa Catarina, foram 526 desde o ano de 2013, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP/SC). E apesar de uma queda de quase 20 mortes de 2018 para 2019, a taxa de letalidade policial se manteve similar: a cada dez mortes violentas em Santa Catarina, uma é causada pela polícia. No mesmo período, foram 15 policiais mortos (a maioria fora de serviço).
Na capital Florianópolis, a letalidade é ainda maior: em 2018 (último ano com dados relativos à cidade divulgados), as 22 mortes em decorrência da ação da PM representaram 18% do total de crimes violentos. Isso colocava a polícia da cidade como a sexta mais letal dentre todas as capitais do país, conforme números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Também são do Anuário os dados que traçam o perfil dos vitimados pela PM no Brasil: a esmagadora são homens jovens e negros, assim como boa parte das vítimas ouvidas pela reportagem no Mocotó. Vale ressaltar que são computadas apenas as vítimas fatais. Ou seja, o número de pessoas que já sofreram com a violência policial é consideravelmente maior.


Por fim, o comandante César, do 4BPM, destacou supostas ações realizadas pela corporação que seriam prova de que a PMSC teria cumprido o objetivo que deu nome à Operação Mãos Dadas: aproximar corporação e comunidade através de melhorias em infraestrutura e oferecimento de serviços públicos, que são escassos no Mocotó. Não há escola ou posto de saúde na comunidade, que ainda carece de espaços de convivência e lazer. Eletricidade e saneamento também são problemas que atingem a maior parte dos moradores.
O primeiro e mais citado exemplo de intervenção da PM foi a parceria com uma escola que, na verdade, fica localizada na comunidade vizinha, o Morro da Queimada. Trata-se de um projeto de escola cívico-militar que, àquela altura, ainda estaria em fase inicial de execução. Segundo o Capitão César, o projeto, nomeado Estudante Cidadão, ofereceria aulas de cidadania e trânsito às crianças, além de realizar viagens a eventos e instalações da própria Polícia Militar. Neste modelo, os jovens seriam ensinados a cultuar símbolos nacionais, o que fica evidente em um vídeo mostrado pelos oficiais no qual estudantes cantam o hino nacional tocado pela banda da PM enquanto uma bandeira do Brasil é hasteada. Apesar das similaridades, o projeto não teria, na versão do comandante, nenhuma ligação com o projeto de escolas cívico-militares criado pelo governo Jair Bolsonaro.
Outra intervenção reivindicada pela Polícia Militar foi a criação de uma biblioteca em um salão recentemente reformado na região mais alta da comunidade, próximo à base policial. A PM alega ter participação na reforma, e Luiz Taffarel de Souza Lopes foi citado nominalmente pelo capitão como um dos moradores que teriam encabeçado o projeto. Taffarel, entretanto, nega que a PM tenha tido qualquer participação. Segundo ele, a iniciativa partiu da própria comunidade, que entrou em contato diretamente com a Secretaria de Esporte e Cultura para realizar o projeto. Após uma licitação, as obras foram feitas por uma empresa privada.
Taffarel, que dirige um projeto social que fomenta a prática de esportes no Morro, vai além e diz que um dos motivos para que a reforma fosse levada adiante foi justamente a presença da Polícia Militar na comunidade. O pedido à Secretaria de Esporte e Cultura foi feito após um boato de que a PM pretendia utilizar o espaço para criar uma base fixa. A base instalada no Mocotó, segundo a PM, seria temporária. Até o dia da entrevista, entretanto, não havia qualquer previsão sobre o fim da operação.
Caso similar ao da biblioteca ocorre com a limpeza de um lixão, realizada pela Comcap no ano passado e cuja autoria também é reivindicada pela PM. Líder comunitário, Moisés Nascimento foi quem organizou o projeto que culminou com a retirada de mais de 10 toneladas de lixo do local. Ele, assim como Taffarel, nega que a Polícia Militar tenha tido qualquer envolvimento no processo. “Eles querem sair da comunidade como se tivessem feito alguma coisa, mas eles não fizeram nada”, afirmou. Moisés também foi o idealizador do protesto de 24 de setembro. Segundo ele, a violência policial, embora ainda presente, teria diminuído nos meses seguintes ao ato.
2020
Com a chegada do ano de 2020, os relatos de terror voltaram. O vizinho de baixo, um jovem negro, foi agredido ao supostamente ser confundido com um traficante. Duas casas adiante, um garoto de apenas quatro anos, também negro, foi enquadrado enquanto brincava com uma arminha de plástico em frente à sua casa, na entrada do Mocotó. O brinquedo foi tomado de sua mão e quebrado com truculência. Antes de ser liberado, ele ainda seria fotografado pelo oficial que o abordou. Desde esse dia, corre sempre que vê um policial.
No começo de março, a escalada na contaminação da Covid-19 cravou um repentino fim para a Operação Mãos Dadas no Mocotó. Segundo relatos de moradores, a Polícia Militar retirou sua base no alto do morro “de um dia para o outro”, eliminando o único posto que representava o Estado em toda a comunidade em meio ao caos da pandemia.
A retirada da base, porém, não diminuiu a violência no morro: apenas no feriado da Páscoa, entre os dias 10 e 12 de abril, quatro moradores foram mortos em incursões noturnas do 4º Batalhão no Mocotó. Com aglomerações restritas devido à pandemia, apenas parentes e amigos próximos puderam velar os quatro jovens. O restante da comunidade, que costuma se mobilizar em peso quando perde um de seus irmãos, não compareceu à cerimônia.
De dentro de suas casas, eles seguem pedindo por paz.












